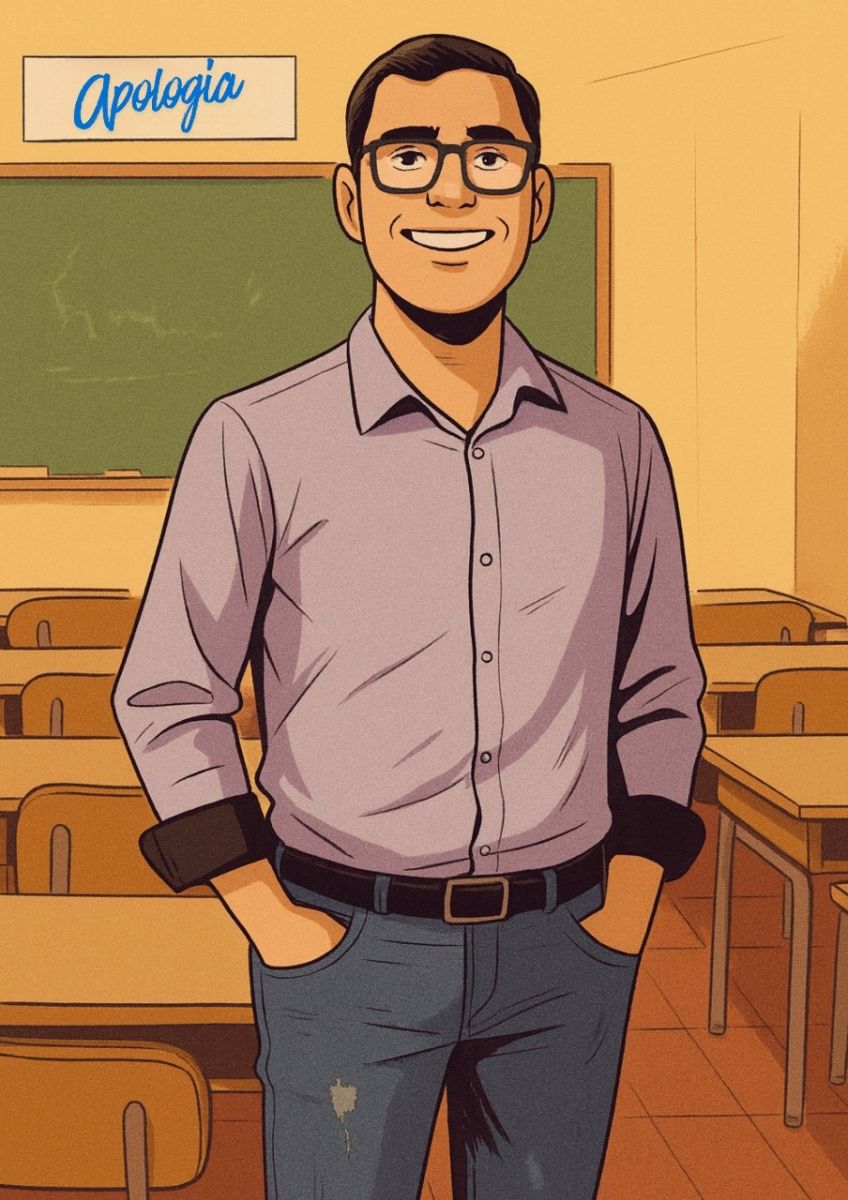
Aplausos por fora, trabalho por dentro
Que semana maravilhosa: estamos a trinta dias das merecidas férias escolares. Essa época sempre me traz à lembrança um ano letivo em que fui escolhido, logo no início, como regente de duas turmas de 9.º ano na Prefeitura de nossa estimada cidade. Fiquei orgulhoso; ser reconhecido pelos estudantes era um afago — ainda que o esperado fosse que cada turma tivesse seu próprio regente. Os dois nonos anos brigaram tanto com a direção que acabei recebendo essa belíssima — e complexa — oportunidade.
A regência trazia um pacote de prerrogativas que exigia paciência. Ser regente de formandos significava, entre outras coisas, conceder segundas chances em trabalhos de recuperação e organizar datas especiais: o Dia da Pátria, o Descobrimento do Brasil (ou “achamento”, ou “invasão”, dependendo de quem fala), o Dia da Consciência Negra, a festa junina e, claro, a formatura. Ao longo do ano, senti-me, por vezes, um professor de educação infantil: tudo, absolutamente tudo, era comigo. O ofício transformou-se numa central de logística, afetos e improvisos.
Foi um ano incrível — demos um show em todas as apresentações. Confesso que abusei um pouco do poder de regente: usei minhas aulas como ensaios, orientei a produção de indumentárias e acessórios, ajudei a costurar figurinos. A escola parecia um pequeno teatro: o cheiro de cola quente e tecido novo no ar, luzes improvisadas na quadra, a ansiedade juvenil vibrando como um pano estendido ao vento. Se não tivesse sido pela formatura, guardaria só memórias boas. Não que os estudantes não fizessem sua parte — faziam, e bem —, mas os pais e a direção… bem, aí a coisa se complicou.
A maioria dos pais ajudava; alguns, porém, protegiam os filhos com tal zelo que doía — doía em mim. Qualquer deslize era logo atribuído ao professor: “Meu filho jamais faria aquilo; foi culpa do docente.”
Aos trancos e barrancos, conseguimos fazer tudo. Que lembrança gostosa, mesmo assim.
Lembro por que trago à tona esse ano: organizei a formatura e tivemos inúmeras reuniões com os pais. Com orgulho, digo que a cerimônia ficou linda — decoração primorosa, telão funcionando, som adequado — tudo fruto do trabalho da turma sob minha orientação. Nos últimos momentos, porém, houve dificuldade para marcar novos encontros. Eu dava aulas o dia inteiro na escola e, à noite, lecionava na EJA, em outro bairro. Tinha apenas uma noite livre por semana. Assim, as reuniões precisavam ocorrer nesse dia.
Numa dessas conversas, um grupo de mães pediu a palavra e iniciou uma reclamação que me atravessou. Sentadas numa sala de reuniões aquecida por lâmpadas econômicas e pelo cheiro de café velho na xícara, disseram, em coro:
— Professor, nós somos muito ocupadas; temos diversos compromissos, e nossos filhos têm vida fora da escola. Queremos maior flexibilidade nos dias de reunião. Por que as reuniões têm de ser sempre no dia que o senhor escolhe?
Respirei fundo e respondi com calma, tentando conter o cansaço que pesava nos ombros:
— É que eu só tenho esta noite livre durante a semana; não consigo oferecer outro dia.
Leiam agora o que ouvi a seguir — e tentem não imaginar o vinho amargo que me subiu ao rosto:
— Mas, professor, que tantos compromissos o senhor tem? O senhor trabalha em outro lugar também? Pensei que o senhor só desse aula... então o senhor trabalha?
Meu lado neurodivergente — aquele que lateja em encontros tensos — quase perdeu o prumo. Por milagre, mantive a compostura e disse apenas que, não, eu apenas dava aulas. A mãe, porém, não se conteve:
— Então não vejo motivos para que as reuniões sejam sempre na data que o senhor escolhe.
A fala dela soou como uma simplificação cruel do meu cotidiano. Naquele momento, inevitavelmente, relacionei o episódio à Literatura: lembrei da Apologia de Sócrates, em que a atividade filosófica é reduzida a acusações vagas; lembrei de como um ofício complexo pode ser transformado em caricatura. Assim também acontece com a docência: o trabalho invisível é reduzido à figura grotesca do “professor preguiçoso”.
Imaginem a cena: o corredor da escola ecoava passos apressados, o vento batia nas janelas fechadas e eu me via coagido por um diagnóstico social que não cabia à minha rotina. Como culpar os pais, porém, se o próprio Estado e seus líderes alimentam esse estereótipo? Pensem bem: o ano letivo termina em 5 de dezembro, mas, em muitas escolas, somos obrigados a comparecer — sem alunos — cumprindo horário administrativo. Não é isso uma acusação institucional de que “professores não trabalham tanto assim”?
O ambiente escolar, por si só, agrava a sensação. Nas salas vazias após a saída dos alunos, a luz fluorescente desbota as cores dos cartazes comemorativos; o som do relógio marca um tempo que não coincide com o trabalho real — correção de provas, planejamento, atendimento a famílias, preparação de espetáculos. A docência é feita de horas invisíveis: noites de correção, manhãs de preparação, pequenos gestos de contenção diante de um aluno que chora no recreio. A visão externa costuma ver apenas o corpo presente em sala, sem perceber o trabalho fantasma que o sustenta.
Dentro de mim, fica um estoque de cansaço, ressentimento e ternura: cansaço pelas horas que ninguém contabiliza; ressentimento pela desconfiança pública; e ternura por ainda acreditar nas vozes desafinadas que, às vezes, acertam o tom. A formatura mostrou o esplendor do esforço coletivo — e, ao mesmo tempo, a miopia alheia que só enxerga corpos em sala, não as noites de afeto que os sustentam.
Se Sócrates disse que “a vida não examinada não vale a pena ser vivida”, podemos ironizar: na visão de alguns, “a profissão não contabilizada não vale a pena ser paga.” Enquanto o país confere presenças e corta responsabilidades, seguimos costurando figurinos, corrigindo provas e acendendo luzes — para que, no palco, eles aplaudam o brilho que não souberam mensurar.
Publicado em 13/11/2025 - por Daniel Camargo Thomaz






